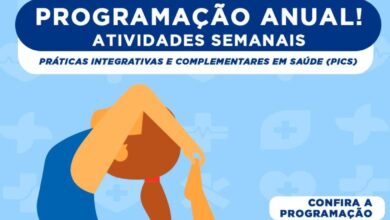A Vigilância Sanitária (Visa) de Sorocaba, através da Secretaria da Saúde de Sorocaba (SES), e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), interditou, na sexta-feira (26), um estabelecimento de construção civil na região sul da cidade.
O local foi interditado por não manter as condições e a organização de trabalho adequadas. O estabelecimento permanecerá fechado até a adequação necessária e a devida regularização.
Denúncias para a Vigilância Sanitária podem ser feitas por meio do canal 156, da Ouvidoria Geral do Município, ou pelo site da Prefeitura de Sorocaba.
O que é Vigilância Sanitária
Muitos são os avanços alcançados no campo da saúde pública ao longo dos tempos, e a vigilância sanitária reconhecidamente tem se constituído como um campo interdisciplinar de saberes e práticas pautadas fundamentalmente na promoção e proteção da saúde da população. Dessa forma, frente a complexidade e abrangência das ações sob sua responsabilidade, a vigilância sanitária é definida atualmente como:
“Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. (§1º, inciso XI, artigo 6º, da Lei 8.080/90, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde).”
Embora tenha maior destaque na atualidade, as ações de vigilância sanitária são reconhecidas como a área mais antiga da Saúde Pública, sendo relatadas ações tais como controle das impurezas nas águas, da salubridade nas cidades, da prática de barbeiros, boticários e cirurgiões, da circulação de mercadorias e pessoas (Rozenfeld, 1999).
Frente à essas questões, coube ao poder público estabelecer regras que disciplinaram comportamentos e relações e exercer a fiscalização de seu cumprimento (Costa, 1999).
Trajetória da Vigilância Sanitária no Brasil
Chegada da Família Real (1808)
No Brasil, o desenvolvimento organizado das ações de vigilância sanitária ocorreu no início no século XVIII, seguindo o modelo e regimentos adotados por Portugal. Mas foi com a chegada da família real portuguesa,
em 1808, que se estruturou a Saúde Pública, com foco na contenção de epidemias e inserção do país nas rotas de comércio internacional. Intensificando-se o fluxo de embarcações e a circulação de passageiros e de mercadorias.
Dessa forma, o controle sanitário torna-se necessário para evitar epidemias e promover a aceitação
dos produtos brasileiros no mercado internacional (COSTA; ROZENFELD, 2000). Criação da Inspetoria de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro (1820)
A criação da Inspetoria de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro em 1820 contribuiu para o estabelecimento de normas para organizar a vida nas cidades, cujas práticas se espelharam no modelo europeu da polícia médica.
Assim, passaram a ser objeto de regulamentação médica os vários aspectos da vida urbana da época, tais como: o isolamento de doentes portadores de moléstias “pestilenciais”, os cemitérios, gêneros alimentícios, açougues, matadouros, casas de saúde, medicamentos, entre outros.
Promulgação do Código de Posturas (1832)
Em 1832 a Câmara Municipal do Rio de Janeiro promulgou o Código de Posturas, que estabelecia dentre outras normas, a prática da licença no controle das fábricas.
Origem do Poder de Polícia (1842)
Dentre a promulgação de leis, estruturação e reformas de serviços sanitários e reorganização da estrutura do Estado, a intervenção sanitária veio sendo institucionalizada no país.
Do período monárquico, passando pela transição para a República e acompanhando a instauração da nova ordem política, econômica e social no país, foi se conformando no interior da área da Saúde Pública, mas apartado de suas outras ações, um subsetor específico que hoje denominamos vigilância sanitária. A organização das ações desse subsetor amparou-se no “poder de polícia”, cuja face mais visível é a fiscalização e a aplicação de penalidades (BRASIL, 2011).
Criação do Ministério da Saúde (1953)
Ao longo do século XX houve inúmeras reformas, de maior ou menor envergadura, intensa produção de leis, sobretudo, nas áreas de medicamentos e alimentos.
Cabe ressaltar entre as décadas de 30 a 45, o crescimento da indústria química-farmacêutica e de agrotóxicos, impulsionadas pelos acontecimentos relacionados à segunda guerra mundial, além da realização de exames laboratoriais relacionados ao controle sanitário dos produtos químicofarmacêuticos pelo Instituto Oswaldo Cruz (COSTA; ROZENFELD, 2000).
A década de 1950 trouxe mudanças importantes com a criação do Ministério da Saúde em 1953, a publicação da Lei 1.944/53 que tornou obrigatória a iodação do sal de cozinha com a finalidade de controlar o bócio endêmico, constituindo-se
em uma das mais importantes iniciativas na área de alimentos com fins de controlar uma doença.
Criação do Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamentos (1954)
Em 1954 foi criado o Laboratório Central de Controle de Drogas e Medicamentos (LCCDM).
Código Nacional de Saúde (1961)
Em 1961 foi regulamentado o Código Nacional de Saúde, que atribui ao Ministério da Saúde a atuação na regulação de alimentos, estabelecimentos industriais e comerciais.
Decreto-lei 986/69 estabeleceu as normas básicas para alimentos (1969)
No final dos anos 60 foi editado o Decreto-Lei nº 986/69 que estabeleceu as normas básicas para alimentos, recebendo influência do Codex Alimentarius internacional (BRASIL, 2011).
A década de 70 foi marcada por importante revisão da legislação sanitária, com destaque para as Leis nº 5.991/73, nº 6.360/76, nº 6.368/76 (revogada pela Lei nº 11.343/2006), voltadas para a área de medicamentos, e a Lei nº 6.437/77, que estabelece o fluxo do processo administrativo-sanitário e configura as infrações sanitárias e as penalidades. Vale lembrar que este conjunto de leis, embora com algumas alterações, está em vigência até hoje (COSTA; ROZENFELD, 2000).
Criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (1976)
Em 1976, com a reestruturação do Ministério da Saúde, foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, a partir da junção do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia e do Serviço de Saúde dos Portos.
Segundo o Decreto n.º 79.056, de 30 de dezembro de 1976, em seu art.13º, caberia à nova secretaria “promover ou elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário relativo a portos, aeroportos, fronteiras, produtos médico-farmacêuticos, bebidas, alimentos e outros produtos ou
bens, respeitadas as legislações pertinentes, bem como efetuar o controle sanitário das condições do exercício profissional relacionado com a saúde”.
Sua estrutura denotava maior ênfase nas ações de controle da qualidade dos produtos de interesse da saúde: alimentos, cosméticos, saneantes domissanitários e medicamentos.
Criação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (1981)
O Laboratório Oficial, que já havia agregado as ações da área de alimentos, foi transferido para a Fundação Oswaldo Cruz, transformando-se, em 1981, no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde –INCQS
(PIOVESAN, 2002).
Criação da ANVISA (1999)
Apesar da nova estrutura da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária/MS, o sistema nacional de vigilância sanitária não foi estruturado e a relação estabelecida entre a esfera federal e a estadual era extremamente frágil.
A insuficiência de recursos não permitiu que a organização, tanto de uma esfera quanto de outra, acompanhasse a demanda do parque produtivo.
Desse modo a vigilância sanitária limitou sua atuação, adotando o modelo cartorial. Este modelo baseia-se apenas na análise documental, sem a confirmação das informações por
meio de inspeção sanitária (LUCCHESE, 2006).
Com o processo de redemocratização da sociedade e a Nova República, durante a década de 1980, a vigilância sanitária aproximou-se do Movimento pela Reforma Sanitária e das organizações dos consumidores. Em 1985 foi realizado o Seminário Nacional de Vigilância Sanitária cujo objetivo principal era reafirmar a necessidade
de definição da Política Nacional de Vigilância Sanitária, integrada à Política Nacional de Saúde.
Em 1986, como desdobramento da VIII Conferência Nacional de Saúde, foi realizada a Conferência Nacional de Saúde do Consumidor que subsidiou a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Este ano ficou marcado pela crise da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária uma vez que, seus dirigentes, sanitaristas vinculados ao Movimento da Reforma Sanitária, contrariaram interesses dos produtores de medicamentos (restrição aos antidistônicos), dos produtores de gelatinas e sucos (com excesso de conservantes) e dos importadores de leite e de carne (oriundos da área contaminada pelo acidente de Chernobyl).
Essa década também foi marcada pelo grave acidente radioativo de Goiânia. Este foi um período de retrocesso que seria aprofundado durante o governo Collor (COSTA, 1999).
Lucchesi (2001, p. 78) afirma que a onda de reforma nos diversos setores da economia e do Estado no início da década de 90, ocasionou mudanças, também, na vigilância sanitária federal. “Uma reestruturação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Ministério da Saúde, foi feita com base nos pressupostos acima mencionados, que governaram o plano de reformulação da intervenção do Estado nessa área. A prioridade era a agilização administrativa e o atendimento dos pedidos das empresas.
Não obstante a insuficiência de estrutura – em particular, do quadro funcional –, a SNVS, paradoxalmente, diminuiu de tamanho. Ademais, a criação do Mercosul, em 1991, trouxe uma função adicional a esta Secretaria, que se responsabilizaria pela delegação brasileira nos processos de harmonização da regulamentação sanitária”.
Caso prefira, leia o 3º capitulo da tese: Lucchese, Geraldo. Globalização e regulação sanitária: os rumos da vigilância sanitária no Brasil. [Doutorado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2001. 329 p.
Logo depois da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária passou a denominar-se Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) e foi dado início a um período de desregulamentação, cujo propósito era responder de forma rápida e ágil às demandas do setor produtivo. Assim, a concessão de registros tornou-se uma atividade meramente administrativa, sem que fossem feitas as necessárias análises técnicas (LUCCHESE, 2006).
O período compreendido entre 1990 e 1998 foi marcado por novas tragédias, como a morte dos pacientes renais crônicos e dos idosos e o grande volume de medicamentos falsificados circulando no país. A fragilidade da SVS era evidente, destacada pela grande rotatividade de seus dirigentes que, neste período, somaram doze secretários.
Entre 1997 e 1998, 197 casos de falsificação de medicamentos foram registrados no país. No período de 1999 (quando a ANVISA foi criada) até o ano 2007, esse número baixou para 18. E foi exatamente essa onda de falsificação de medicamentos um dos eventos que propiciou a concretização da criação da Agência, que levou,
inclusive, à instauração de mais uma CPI dos Medicamentos, em 1999 (ANVISA, 2007).
Hoje em dia, além do trabalho articulado entre a Agência, as Vigilâncias estaduais e municipais e outros órgãos de combate ao crime (Polícia Federal, Receita Federal, Polícias Civil e Militar, Polícia Rodoviária Federal, entre outros), os consumidores, as unidades hospitalares e os profissionais da saúde têm sido importantes parceiros da ANVISA nas ações de informação, denúncias e notificações sobre falsificações e outras irregularidades envolvendo medicamentos e produtos sujeitos à vigilância sanitária. (CONDESSA, 2007, p. 4).
As discussões sobre a necessidade da formação de um sistema nacional de vigilância sanitária foram retomadas e, em 1994, foi editada a Portaria GM/MS n° 1.565/94, que deliberava sobre a instituição do sistema nacional de vigilância sanitária. Entretanto, essa portaria nunca foi implementada e, em seguida, iniciaram-se as discussões acerca da criação de uma autarquia para o órgão federal de vigilância sanitária, de acordo com o preconizado pelo Plano de Reforma do Aparelho do Estado, desenvolvido pelo Governo Federal a partir de 1995 (BRASIL, 2011).
Esse processo se deu sem que o projeto houvesse sido colocado para adiscussão com a sociedade e nem mesmo franqueado aos outros entes federativos.Finalmente, em 1999 foi aprovada a Medida Provisória n° 1.791, pelo Congresso Nacional e editada a Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia sob regime especial, ligada ao Ministério da Saúde.
Necessário se faz destacar, como marco fundamental da construção da vigilância sanitária no país, a realização em novembro de 2001, da I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária (CONAVISA), cujo tema foi “Efetivar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: proteger e promover a saúde, construindo cidadania”.
A Conferência possibilitou uma ampla e aprofundada discussão acerca da situação da vigilância sanitária no país. Assim, suas fragilidades foram expostas: a desigualdade na cobertura das ações de vigilância sanitária, a fragmentação de suas ações, o estágio de expressiva centralização e a baixa permeabilidade de sua estrutura ao
controle social.
O relatório da I Conavisa apresentou um conjunto de proposições que subsidiou a construção do subsistema nacional de vigilância sanitária que tem como princípios aqueles que regem o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011).